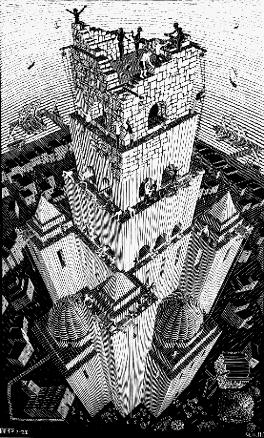A tentativa, em curso neste artigo, de uma leitura da forma urbana que ultrapasse as dificuldades implícitas nas representações construídas sobre o mundo das aparências, impõe a necessidade de distanciamento crítico com relação ao objeto em estudo. Deste modo, a reflexão que se segue discute as relações passíveis de serem estabelecidas entre forma e conteúdo, visando apreender o movimento do pensamento que parte da aparência visível das coisas para, através das operações de abstração, restituir os seus significados.
1.1 – A verdade provável das coisas
O mundo dos objetos é, para Sartre, o mundo do provável[1] (1962, p. 264). Os objetos, naturais ou fabricados, existem como coisas no mundo físico. São dotados de materialidade, contornos, cores, volume, extensão. Como coisas, apresentam uma presença e uma inércia formal que não dependem da espontaneidade nem da minha, nem de outra consciência (Id., 1987, p. 35). Existem fora da consciência e são por ela visadas através da percepção. Aquilo que percebemos não se confunde com a coisa. Não é senão a sua imagem, facultada pela aparência da coisa e produzida pela consciência. Apreender o real significa, necessariamente, convertê-lo em imagem. Não podemos, entretanto, substituir o mundo das coisas pelas imagens que, a partir das coisas, formamos. Tal engano, decorrente da “ilusão de transparência”, redundaria numa forma de idealismo (LEFEBVRE, 2000, pp. 36-7). A potência criadora da consciência não se traduz pela negação da realidade, mas por sua capacidade de interagir e transformar essa realidade. Nesse sentido, a imagem é, para Sartre, uma “coisa menor, inferior, que tem existência própria, que se dá à consciência como coisa e que mantém relações externas com a coisa da qual é imagem” (op. cit., p. 37). Com esta definição Sartre se opõe àquela “metafísica ingênua da imagem” que pressupõe, equivocadamente, a imagem como cópia fiel da coisa existente.
Para Husserl, toda consciência é a consciência de alguma coisa, assim como, toda imagem é a imagem de alguma coisa (Apud. SARTRE, op. cit., p. 99). A percepção estabelece com o real uma relação de intencionalidade, na medida em que não pode prescindir do conceito de que está imbuída. Se a intencionalidade é o móvel da consciência, podemos descrever o ato da percepção como um ato de vontade consciente. É a idéia que comanda a experiência e não o contrário. Segue-se, portanto, que toda imagem é, também, a consciência de alguma coisa (Ibid., p. 107). Os fenômenos somente podem se manifestar para a consciência, e serem por ela visados, através da sua aparência. Não existe outra realidade para além do fenômeno: o ser de um existente qualquer será sempre o ser-aparência do fenômeno percebido. A aparência torna-se, então, uma forma de conhecimento sobre o existente das coisas; a única evidência verificável da sua existência concreta.
“A essência aparece; a aparência é essencial” (LÊNIN, apud. LEFEBVRE, 1983, p. 294). Com esta frase, Lênin enuncia o princípio através do qual o pensamento dialético supera a contradição entre a manifestação dos fenômenos e seu significado concreto. A essência das coisas se manifesta para a percepção através da aparência. Assim, na aparência das coisas já estão implicados, simultaneamente, a essência da coisa e o sujeito da percepção, em sua interação com o real. Mas o pensamento dialético não se deixa aprisionar pela aparência. Esta será apenas o ponto de partida necessário para o curso do pensamento que visa o conhecimento. Indo da aparência à essência, o pensamento aprofunda o conhecimento. Mas a essência revelada na aparência, pela ação do pensamento, já não pode ser mais do que uma etapa, um novo momento da produção do conhecimento. Segue-se então, que esta essência, refletida na aparência primeira da coisa, se torna agora reflexo de novos conteúdos. Tornada provisória no curso incessante do pensamento, a essência alcançada transforma-se, também ela, em ponto de partida para novos e sucessivos desdobramentos. Nesse movimento, que demarca estágios progressivos no processo do conhecimento, a essência volta a ser aparência. Ou, como nos mostra Lefebvre, a essência que nasce e se forma através de suas manifestações também se esgota nelas: “em si, a essência é apenas a totalidade das aparências” (op. cit., p. 219).
Para o pensamento, esta é a única chave possível para o conhecimento do real. A recusa desta chave permitiu o surgimento de duas correntes do pensamento metafísico – o ceticismo e o idealismo, igualmente incapazes de compreender o real (Ibid., p. 216). Para o ceticismo, a objetividade inalcançável da coisa em-si aprisiona o pensamento no imediato da percepção sensível, tornando o conhecimento, em última análise, uma impossibilidade. Para o idealismo, a aparência ilusória dos fenômenos obriga o pensamento a recusar o mundo da experiência sensível, impondo-se um exílio voluntário. Retirando-se do real e fechando-se nele mesmo, o pensamento se torna absoluto. Ao pretender alcançar as verdades transcendentais absolutas, o idealista transforma o conhecimento em abstração vazia.
O conhecimento verdadeiro decorre, portanto, da atividade do pensamento que recusa as evidências (sem, no entanto, negá-las), penetrando cada vez mais profundamente no real. Um pensamento que não se fecha em si mesmo, mas que se abre ao mundo; que vai ao mundo interagir com as coisas e os seres vivos. Um pensamento que surpreende e revela a essência no exato momento em que ela se oculta, como reflexo, na aparência das coisas. Podemos então dizer, com Sartre, que “o mundo real não é, mas se faz, sofre incessantes retoques, se suaviza, se enriquece” (1987, p. 80). Com Merleau-Ponty, que “a profundidade é sempre nova” (1969, p. 80). E, finalmente, com Lênin, que “não apenas as aparências são passageiras, móveis, separadas por limites condicionais; também as essências o são” (LÊNIN, apud. LEFEBVRE, 1983, p. 294). O conteúdo concreto das coisas não está determinado de uma vez por todas, mas em permanente construção.
1.2 – O conteúdo concreto da abstração
A produção do conhecimento constitui uma atividade prática (LEFEBVRE, op. cit., p. 49). Tomar consciência do mundo significa, num certo sentido, participar da sua produção/invenção. De acordo com Lefebvre, toda ação produtiva age no sentido de “separar um objeto definido da enorme massa do universo material” (1957, p. 104). Os nomes que atribuo às coisas, as formas através das quais eu as identifico, as medidas com as quais eu as relaciono e comparo, são modos de “recortar” o meu objeto e transformá-lo num objeto de pensamento. Essas coisas passam a constituir produtos do trabalho humano, momentaneamente isolados do todo. Ao visar um objeto, a consciência imobiliza um determinado aspecto do objeto, realizando, através da percepção, uma operação de abstração. Nesse sentido, a abstração pode ser vista como uma técnica do pensamento que separa os objetos da totalidade em que se encontram inseridos. A abstração decorre, portanto, de uma atividade prática e essencialmente produtiva. No entanto, um objeto isolado só pode ser concebido como um momento do movimento incessante que se estabelece entre o pensamento e o real. O abstrato só adquire sentido em oposição dialética ao concreto. O real não é imediatamente acessível. O real é a totalidade. Penetrar no real significa fragmentar essa totalidade inacessível para então recompô-la através da razão. A abstração será, então, apenas o ponto de partida necessário para a produção de conhecimento sobre o real.
As impressões sensíveis da percepção imediata já implicam em processos de abstração. Nesse sentido, não se pode estabelecer uma separação rígida entre as sensações e o entendimento. Na percepção, as sensações não ocorrem desligadas das escolhas, das preferências e das vivências do indivíduo. De acordo com Lefebvre, a sensação torna-se um momento interno da percepção, entendida como um todo (1983, p. 107).
Conhecer o real, através do pensamento, pressupõe, no entanto, a superação do sensível imediato da percepção. A abstração surge como indutora do seu contrário. A momentânea dissolução do real operada pela abstração torna-se, assim, uma etapa imprescindível para a irrupção do concreto. Mas, o concreto que irrompe sob o véu da abstração é sempre um concreto provisório. A totalidade recomposta pela razão jamais poderá coincidir com a totalidade exterior do mundo material. O processo de produção do conhecimento visa a totalidade do real, tende para ela, mas alcançá-la de uma vez por todas significaria o fim do movimento dialético que confere sentido ao próprio conhecimento verdadeiro. Uma vez atingida, a totalidade produzida pelo pensamento se torna, outra vez, momento deste pensamento, dando lugar à abstração que, por sua vez, fecundará a possibilidade de construção de uma nova totalidade. O processo dialético é aproximativo e sem fim. É dessa forma que, ainda segundo Lefebvre, o movimento do pensamento se torna o pensamento de um movimento, consciente das contradições do real (op. cit., p. 178).
1.3- Forma do conteúdo e conteúdo da forma
Forma e conteúdo se apresentam, tal como o abstrato e o concreto, como uma contradição dialética. Forma sem conteúdo é uma abstração vazia. É o conteúdo que determina a forma, mas uma forma não é nunca, salvo para o olhar desatento do senso comum, inteiramente adequada ao conteúdo. Como mensageira do mundo da aparência, a forma é ilusória; ela oculta o conteúdo que a determina. Mas a ocultação do conteúdo concreto não é a eliminação do conteúdo; ele subsiste como negação. Se foi na aparência sensível das coisas que o conteúdo se ocultou, é aí que ele deve ser procurado. A forma que oculta é também a forma que revela. Esse movimento, que vai do conteúdo à forma e da forma ao conteúdo, pressupõe um processo de transformação do pensamento e, portanto, o conteúdo revelado através da forma do objeto já implica na superação dialética do conteúdo original. Deste modo, a forma tornada, momentaneamente, um instrumento de decifração do real, constituirá, ela própria, uma etapa necessária do processo de construção do conhecimento.
As reflexões teóricas acima desenvolvidas devem agora permitir a retomada do tema da forma sob o prisma da morfologia urbana. Para a arquitetura, produzir uma forma significa concretizar uma idéia, dar-lhe uma existência objetiva através de um suporte material. Uma vez produzida, a forma, produto da resistência que a matéria opõe à idéia, não apenas se revela como algo distinto do conteúdo que lhe deu origem, como se autonomiza com relação a esse conteúdo, passando a abrigar novos conteúdos. O gesto que transforma a matéria, que lhe impõe recortes definidos, que individualiza um objeto entre os demais, é, nesse sentido, análogo ao ato do pensamento que opera a abstração. E, no entanto, é dessa operação de emprestar forma às coisas que resulta, em toda a sua concretude, o novo objeto produzido. A forma, assim como a abstração, é produto e produtora. Constitui, simultaneamente, o ponto de chegada de um processo de transformação da matéria bruta segundo uma intenção, e o ponto de partida para a produção de novas idéias. Submetida à idéia, através do trabalho humano, a matéria assume uma forma concreta (produto-coisa); ao interagir com o objeto produzido, o sujeito produz uma forma abstrata (produto-imagem). Segue-se assim, que a forma, tendo a materialidade como suporte, passa, também ela, a ser o suporte de significados culturais decorrentes das práticas sociais que sobre ela incidem.
A forma urbana não se reduz, portanto, à materialidade do espaço construído. A forma consiste no resultado da operação que, dotando de contornos definidos e mensuráveis a matéria, produz objetos portadores de uma intencionalidade reconhecível, seja de ordem prática, seja de ordem estética. A forma torna a materialidade operacional e comunicante. Formalizados, os objetos tornam-se virtualmente aptos para o desempenho das funções a eles destinadas ou atribuídas. Para que os objetos funcionem não basta, no entanto, que eles estejam formalmente aptos. É necessário que sobre eles incidam as ações. São, portanto, as ações que se encarregam de atualizar os objetos, realizando, através das formas, as funções. O ajuste entre a ação incidente e o objeto agido, implica em um duplo movimento: a forma predispõe o objeto para a ação que, por sua vez, deve se submeter também à forma existente. Assim, na medida em que o funcionamento dos objetos depende fundamentalmente da forma que possuem, podemos dizer que a forma assume a condição de intermediária indispensável entre os objetos e as ações, isto é, entre os fixos e os fluxos. Os fixos, entendidos aqui como o conjunto de objetos móveis e imóveis que, articulados entre si, compõem a paisagem urbana; e os fluxos, como o resultado direto ou indireto das ações empreendidas pelos homens visando o atendimento de suas necessidades: naturais ou criadas, legítimas ou impostas, materiais ou imateriais, que, sem prescindir também de sua carga simbólica, comandam o processo como um todo.
A forma, responsável pela mediação entre os fluxos e os fixos, pertence, então simultaneamente, aos dois mundos. Aderida e imbricada à materialidade do objeto que lhe serve de suporte, a forma compartilha com os fixos a inércia, a estabilidade, a durabilidade, a textura e o “mutismo” da matéria. Tais características permitem que as formas, através da duração de sua existência física, sobrevivam ao desaparecimento das funções originais a ela associadas. Veja-se, por exemplo, a redescoberta de um vestígio arqueológico, soterrado por centenas (às vezes milhares) de anos. Durante o período de ocultamento o objeto, impossibilitado para o uso, manteve-se submetido exclusivamente às forças da natureza. A resistência então oferecida pelo objeto deveu-se à matéria de que é feita o seu suporte, mas também à técnica de fabricação utilizada e à forma que recebeu o objeto. Sabe-se que a forma, modelando a superfície dos objetos (e, portanto, associada também ao emprego da técnica), pode contribuir significativamente para aumentar a resistência dos materiais[2]. Assim é que a forma, a técnica e a matéria comparecem como partes integrantes e indissolúveis da constituição dos objetos. Uma vez reencontrado o objeto arqueológico do exemplo empregado, o mutismo da matéria é, por assim dizer, encoberto e suplantado pela eloqüência comunicativa da forma. Em muitos casos, a datação por “Carbono 14” realizada através da estrutura molecular do suporte, vem apenas confirmar o que já fora antecipadamente revelado pela forma do objeto. Para o arqueólogo as formas contêm os vestígios das ações humanas, possibilitando, através do seu estudo, revelar a época e as características da sociedade que as produziu e utilizou. Retornando “ao mundo dos vivos”, o objeto reencontrado se presentifica, atualizando-se, através de sua forma, em novas funções, ainda que seu uso se restrinja, pela necessidade de proteção da materialidade de seu suporte, à pesquisa científica ou à visitação pública, como peça de uma coleção museográfica.
A tentativa, em curso artigo, de uma leitura da forma urbana que ultrapasse as dificuldades implícitas nas representações construídas sobre o mundo das aparências, impõe a necessidade de distanciamento crítico com relação ao objeto em estudo. Deste modo, a reflexão que se segue discute as relações passíveis de serem estabelecidas entre forma e conteúdo, visando apreender o movimento do pensamento que parte da aparência visível das coisas para, através das operações de abstração, restituir os seus significados.
1.1 – A verdade provável das coisas
O mundo dos objetos é, para Sartre, o mundo do provável[1] (1962, p. 264). Os objetos, naturais ou fabricados, existem como coisas no mundo físico. São dotados de materialidade, contornos, cores, volume, extensão. Como coisas, apresentam uma presença e uma inércia formal que não dependem da espontaneidade nem da minha, nem de outra consciência (Id., 1987, p. 35). Existem fora da consciência e são por ela visadas através da percepção. Aquilo que percebemos não se confunde com a coisa. Não é senão a sua imagem, facultada pela aparência da coisa e produzida pela consciência. Apreender o real significa, necessariamente, convertê-lo em imagem. Não podemos, entretanto, substituir o mundo das coisas pelas imagens que, a partir das coisas, formamos. Tal engano, decorrente da “ilusão de transparência”, redundaria numa forma de idealismo (LEFEBVRE, 2000, pp. 36-7). A potência criadora da consciência não se traduz pela negação da realidade, mas por sua capacidade de interagir e transformar essa realidade. Nesse sentido, a imagem é, para Sartre, uma “coisa menor, inferior, que tem existência própria, que se dá à consciência como coisa e que mantém relações externas com a coisa da qual é imagem” (op. cit., p. 37). Com esta definição Sartre se opõe àquela “metafísica ingênua da imagem” que pressupõe, equivocadamente, a imagem como cópia fiel da coisa existente.
Para Husserl, toda consciência é a consciência de alguma coisa, assim como, toda imagem é a imagem de alguma coisa (Apud. SARTRE, op. cit., p. 99). A percepção estabelece com o real uma relação de intencionalidade, na medida em que não pode prescindir do conceito de que está imbuída. Se a intencionalidade é o móvel da consciência, podemos descrever o ato da percepção como um ato de vontade consciente. É a idéia que comanda a experiência e não o contrário. Segue-se, portanto, que toda imagem é, também, a consciência de alguma coisa (Ibid., p. 107). Os fenômenos somente podem se manifestar para a consciência, e serem por ela visados, através da sua aparência. Não existe outra realidade para além do fenômeno: o ser de um existente qualquer será sempre o ser-aparência do fenômeno percebido. A aparência torna-se, então, uma forma de conhecimento sobre o existente das coisas; a única evidência verificável da sua existência concreta.
“A essência aparece; a aparência é essencial” (LÊNIN, apud. LEFEBVRE, 1983, p. 294). Com esta frase, Lênin enuncia o princípio através do qual o pensamento dialético supera a contradição entre a manifestação dos fenômenos e seu significado concreto. A essência das coisas se manifesta para a percepção através da aparência. Assim, na aparência das coisas já estão implicados, simultaneamente, a essência da coisa e o sujeito da percepção, em sua interação com o real. Mas o pensamento dialético não se deixa aprisionar pela aparência. Esta será apenas o ponto de partida necessário para o curso do pensamento que visa o conhecimento. Indo da aparência à essência, o pensamento aprofunda o conhecimento. Mas a essência revelada na aparência, pela ação do pensamento, já não pode ser mais do que uma etapa, um novo momento da produção do conhecimento. Segue-se então, que esta essência, refletida na aparência primeira da coisa, se torna agora reflexo de novos conteúdos. Tornada provisória no curso incessante do pensamento, a essência alcançada transforma-se, também ela, em ponto de partida para novos e sucessivos desdobramentos. Nesse movimento, que demarca estágios progressivos no processo do conhecimento, a essência volta a ser aparência. Ou, como nos mostra Lefebvre, a essência que nasce e se forma através de suas manifestações também se esgota nelas: “em si, a essência é apenas a totalidade das aparências” (op. cit., p. 219).
Para o pensamento, esta é a única chave possível para o conhecimento do real. A recusa desta chave permitiu o surgimento de duas correntes do pensamento metafísico – o ceticismo e o idealismo, igualmente incapazes de compreender o real (Ibid., p. 216). Para o ceticismo, a objetividade inalcançável da coisa em-si aprisiona o pensamento no imediato da percepção sensível, tornando o conhecimento, em última análise, uma impossibilidade. Para o idealismo, a aparência ilusória dos fenômenos obriga o pensamento a recusar o mundo da experiência sensível, impondo-se um exílio voluntário. Retirando-se do real e fechando-se nele mesmo, o pensamento se torna absoluto. Ao pretender alcançar as verdades transcendentais absolutas, o idealista transforma o conhecimento em abstração vazia.
O conhecimento verdadeiro decorre, portanto, da atividade do pensamento que recusa as evidências (sem, no entanto, negá-las), penetrando cada vez mais profundamente no real. Um pensamento que não se fecha em si mesmo, mas que se abre ao mundo; que vai ao mundo interagir com as coisas e os seres vivos. Um pensamento que surpreende e revela a essência no exato momento em que ela se oculta, como reflexo, na aparência das coisas. Podemos então dizer, com Sartre, que “o mundo real não é, mas se faz, sofre incessantes retoques, se suaviza, se enriquece” (1987, p. 80). Com Merleau-Ponty, que “a profundidade é sempre nova” (1969, p. 80). E, finalmente, com Lênin, que “não apenas as aparências são passageiras, móveis, separadas por limites condicionais; também as essências o são” (LÊNIN, apud. LEFEBVRE, 1983, p. 294). O conteúdo concreto das coisas não está determinado de uma vez por todas, mas em permanente construção.
1.2 – O conteúdo concreto da abstração
A produção do conhecimento constitui uma atividade prática (LEFEBVRE, op. cit., p. 49). Tomar consciência do mundo significa, num certo sentido, participar da sua produção/invenção. De acordo com Lefebvre, toda ação produtiva age no sentido de “separar um objeto definido da enorme massa do universo material” (1957, p. 104). Os nomes que atribuo às coisas, as formas através das quais eu as identifico, as medidas com as quais eu as relaciono e comparo, são modos de “recortar” o meu objeto e transformá-lo num objeto de pensamento. Essas coisas passam a constituir produtos do trabalho humano, momentaneamente isolados do todo. Ao visar um objeto, a consciência imobiliza um determinado aspecto do objeto, realizando, através da percepção, uma operação de abstração. Nesse sentido, a abstração pode ser vista como uma técnica do pensamento que separa os objetos da totalidade em que se encontram inseridos. A abstração decorre, portanto, de uma atividade prática e essencialmente produtiva. No entanto, um objeto isolado só pode ser concebido como um momento do movimento incessante que se estabelece entre o pensamento e o real. O abstrato só adquire sentido em oposição dialética ao concreto. O real não é imediatamente acessível. O real é a totalidade. Penetrar no real significa fragmentar essa totalidade inacessível para então recompô-la através da razão. A abstração será, então, apenas o ponto de partida necessário para a produção de conhecimento sobre o real.
As impressões sensíveis da percepção imediata já implicam em processos de abstração. Nesse sentido, não se pode estabelecer uma separação rígida entre as sensações e o entendimento. Na percepção, as sensações não ocorrem desligadas das escolhas, das preferências e das vivências do indivíduo. De acordo com Lefebvre, a sensação torna-se um momento interno da percepção, entendida como um todo (1983, p. 107).
Conhecer o real, através do pensamento, pressupõe, no entanto, a superação do sensível imediato da percepção. A abstração surge como indutora do seu contrário. A momentânea dissolução do real operada pela abstração torna-se, assim, uma etapa imprescindível para a irrupção do concreto. Mas, o concreto que irrompe sob o véu da abstração é sempre um concreto provisório. A totalidade recomposta pela razão jamais poderá coincidir com a totalidade exterior do mundo material. O processo de produção do conhecimento visa a totalidade do real, tende para ela, mas alcançá-la de uma vez por todas significaria o fim do movimento dialético que confere sentido ao próprio conhecimento verdadeiro. Uma vez atingida, a totalidade produzida pelo pensamento se torna, outra vez, momento deste pensamento, dando lugar à abstração que, por sua vez, fecundará a possibilidade de construção de uma nova totalidade. O processo dialético é aproximativo e sem fim. É dessa forma que, ainda segundo Lefebvre, o movimento do pensamento se torna o pensamento de um movimento, consciente das contradições do real (op. cit., p. 178).
1.3- Forma do conteúdo e conteúdo da forma
Forma e conteúdo se apresentam, tal como o abstrato e o concreto, como uma contradição dialética. Forma sem conteúdo é uma abstração vazia. É o conteúdo que determina a forma, mas uma forma não é nunca, salvo para o olhar desatento do senso comum, inteiramente adequada ao conteúdo. Como mensageira do mundo da aparência, a forma é ilusória; ela oculta o conteúdo que a determina. Mas a ocultação do conteúdo concreto não é a eliminação do conteúdo; ele subsiste como negação. Se foi na aparência sensível das coisas que o conteúdo se ocultou, é aí que ele deve ser procurado. A forma que oculta é também a forma que revela. Esse movimento, que vai do conteúdo à forma e da forma ao conteúdo, pressupõe um processo de transformação do pensamento e, portanto, o conteúdo revelado através da forma do objeto já implica na superação dialética do conteúdo original. Deste modo, a forma tornada, momentaneamente, um instrumento de decifração do real, constituirá, ela própria, uma etapa necessária do processo de construção do conhecimento.
As reflexões teóricas acima desenvolvidas devem agora permitir a retomada do tema da forma sob o prisma da morfologia urbana. Para a arquitetura, produzir uma forma significa concretizar uma idéia, dar-lhe uma existência objetiva através de um suporte material. Uma vez produzida, a forma, produto da resistência que a matéria opõe à idéia, não apenas se revela como algo distinto do conteúdo que lhe deu origem, como se autonomiza com relação a esse conteúdo, passando a abrigar novos conteúdos. O gesto que transforma a matéria, que lhe impõe recortes definidos, que individualiza um objeto entre os demais, é, nesse sentido, análogo ao ato do pensamento que opera a abstração. E, no entanto, é dessa operação de emprestar forma às coisas que resulta, em toda a sua concretude, o novo objeto produzido. A forma, assim como a abstração, é produto e produtora. Constitui, simultaneamente, o ponto de chegada de um processo de transformação da matéria bruta segundo uma intenção, e o ponto de partida para a produção de novas idéias. Submetida à idéia, através do trabalho humano, a matéria assume uma forma concreta (produto-coisa); ao interagir com o objeto produzido, o sujeito produz uma forma abstrata (produto-imagem). Segue-se assim, que a forma, tendo a materialidade como suporte, passa, também ela, a ser o suporte de significados culturais decorrentes das práticas sociais que sobre ela incidem.
A forma urbana não se reduz, portanto, à materialidade do espaço construído. A forma consiste no resultado da operação que, dotando de contornos definidos e mensuráveis a matéria, produz objetos portadores de uma intencionalidade reconhecível, seja de ordem prática, seja de ordem estética. A forma torna a materialidade operacional e comunicante. Formalizados, os objetos tornam-se virtualmente aptos para o desempenho das funções a eles destinadas ou atribuídas. Para que os objetos funcionem não basta, no entanto, que eles estejam formalmente aptos. É necessário que sobre eles incidam as ações. São, portanto, as ações que se encarregam de atualizar os objetos, realizando, através das formas, as funções. O ajuste entre a ação incidente e o objeto agido, implica em um duplo movimento: a forma predispõe o objeto para a ação que, por sua vez, deve se submeter também à forma existente. Assim, na medida em que o funcionamento dos objetos depende fundamentalmente da forma que possuem, podemos dizer que a forma assume a condição de intermediária indispensável entre os objetos e as ações, isto é, entre os fixos e os fluxos. Os fixos, entendidos aqui como o conjunto de objetos móveis e imóveis que, articulados entre si, compõem a paisagem urbana; e os fluxos, como o resultado direto ou indireto das ações empreendidas pelos homens visando o atendimento de suas necessidades: naturais ou criadas, legítimas ou impostas, materiais ou imateriais, que, sem prescindir também de sua carga simbólica, comandam o processo como um todo.
A forma, responsável pela mediação entre os fluxos e os fixos, pertence, então simultaneamente, aos dois mundos. Aderida e imbricada à materialidade do objeto que lhe serve de suporte, a forma compartilha com os fixos a inércia, a estabilidade, a durabilidade, a textura e o “mutismo” da matéria. Tais características permitem que as formas, através da duração de sua existência física, sobrevivam ao desaparecimento das funções originais a ela associadas.
Veja-se, por exemplo, a redescoberta de um vestígio arqueológico, soterrado por centenas (às vezes milhares) de anos. Durante o período de ocultamento o objeto, impossibilitado para o uso, manteve-se submetido exclusivamente às forças da natureza. A resistência então oferecida pelo objeto deveu-se à matéria de que é feita o seu suporte, mas também à técnica de fabricação utilizada e à forma que recebeu o objeto. Sabe-se que a forma, modelando a superfície dos objetos (e, portanto, associada também ao emprego da técnica), pode contribuir significativamente para aumentar a resistência dos materiais[2]. Assim é que a forma, a técnica e a matéria comparecem como partes integrantes e indissolúveis da constituição dos objetos. Uma vez reencontrado o objeto arqueológico do exemplo empregado, o mutismo da matéria é, por assim dizer, encoberto e suplantado pela eloqüência comunicativa da forma. Em muitos casos, a datação por “Carbono 14” realizada através da estrutura molecular do suporte, vem apenas confirmar o que já fora antecipadamente revelado pela forma do objeto. Para o arqueólogo as formas contêm os vestígios das ações humanas, possibilitando, através do seu estudo, revelar a época e as características da sociedade que as produziu e utilizou. Retornando “ao mundo dos vivos”, o objeto reencontrado se presentifica, atualizando-se, através de sua forma, em novas funções, ainda que seu uso se restrinja, pela necessidade de proteção da materialidade de seu suporte, à pesquisa científica ou à visitação pública, como peça de uma coleção museográfica.
[1] Entendido, aqui, no sentido probabilístico do termo.
[2] Para o cálculo estrutural, essa propriedade está referida ao conceito de “rigidez pela forma”.
(extrato de texto, publicado in: DUARTE, Cristovão Fernandes. Circulação e cidade: do movimento da forma à forma do movimento (tese de Doutorado). Rio de Janeiro: IPPUR-UFRJ, 2002, pp. 91-100)
Referências bibliográficas:
LEFEBVRE, H. Le matérialisme dialectique. Paris: Presses Universitaires de France, 4a ed.,1957.
_________. Lógica formal, lógica dialética. Rio de janeiro: Civilização brasileira, 1983.
_________. La production de l’espace. Paris: Ed. Anthropos, 2000.
MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. Rio de Janeiro: GRIFO Edições, 1969.
Signes. Paris: Gallimard, 1960.
SARTRE, Jean-Paul. Critique de la raison dialectique. Paris: Gallimard, 1960.
__________. Os pensadores, 3a ed., São Paulo: Nova Cultural, 1987.